«UM DOS MAIS PRESTIGIADOS BLOGGERS NACIONAIS»*
*Título surripiado aqui.



 Hakim Bey, pseudónimo de Peter Lamborn Wilson (n. 1945), é uma figura curiosa. Buscando na Internet sobre o seu nome, ficamos a saber que é escritor, ensaísta e poeta, intitula-se “anarquista ontológico”, escreveu sobre sociedades secretas, Fourier e Nietzsche, viveu na Índia, Paquistão, Afeganistão e Irão, tem procurado conciliar a doutrina sufista com o anarquismo, o que, já de si, parece projecto tão ambicioso quão aliciante. O resultado desse esforço é o “anarquismo ontológico”, apresentado pela frenesi, parcial mas certeiramente, numa breve colectânea de textos, editada em 2000, reunidos com o título Zona Autónoma Temporária - pequena amostra do pensamento deste autor, cuja complexidade pode ser facilmente constatável, a título de exemplo, neste sítio. Se quisermos ser precisos, teremos de remeter as propostas de Hakim Bey para uma já muito longa tradição do pensamento dito marginal. No entanto, a pergunta impõe-se: que pensamento é esse que possa ser classificado de marginal? Classificá-lo é, em parte, retirá-lo da margem e recentrá-lo, ainda que isso não signifique institucionalizá-lo. Classificar é integrar qualquer coisa num paradigma, mesmo quando essa qualquer coisa se distinga das demais por ser uma força de resistência ao paradigma. Evitemos então as classificações. Quando falamos em “tradição de pensamento marginal” pretendemos referir-nos às propostas filosóficas que se situam na ténue linha da ruptura. É por essa razão que, a título de exemplo, um autor como Nietzsche será sempre um autor marginal, pois todo o seu pensamento situa-se, na forma e no conteúdo, nessa linha de ruptura que pode ser, ao mesmo tempo, uma linha de fusão de perspectivas, à partida, antagónicas. Curioso notar que, tal como sucede no filósofo alemão, também os textos deste pequeno volume resistem a rotulagens de género. Na verdade, eles são poéticos e filosóficos; não propõem um programa sistematizado, mas avançam com propostas num registo que eu diria de orientação no interior do caos; são textos breves que manifestam sem se tornarem manifestos, que instruem sem pretenderem ser iniciáticos. Muito resumidamente, o que o anarquismo ontológico de Hakim Bey "advoga" é o imediatismo numa época onde «toda a experiência é mediada». Contra a mediação da experiência, contra a sobriedade, o imediatismo surge enquanto acto e jogo, sem qualquer propósito de «programa estético», sem intenções comerciais, ao jeito de uma festa onde os participantes, pela prática, libertam-se de «toda a mediação e alienação» típicas das sociedades modernas. Em última instância, diria que este imediatismo consiste numa tentativa de transformar a vida numa espécie de performance movida pelo amour fou. Este amour fou surge, então, como pré-condição da liberdade, pois «floresce com os dispositivos anti-entropia». A mais lógica manifestação deste imediatismo é aquilo a que Hakim Bey chama da terrorismo poético: «O Terrorismo Poético é um acto no Teatro da Crueldade que não tem palco, nem filas de cadeiras, nem ingressos, nem paredes. Para que funcione, o Terrorismo Poético tem de ser categoricamente divorciado de todas as estruturas convencionais para o consumo de arte (galerias, publicações, media). Até mesmo as tácticas situacionistas do teatro de rua serão hoje demasiado conhecidas e previsíveis.» A ideia é, pois, a da imprevisibilidade, do choque, da provocação da mudança. As zonas autónomas temporárias serão, deste modo, as zonas onde a liberdade acontece de uma forma imediata, as zonas onde o amour fou acontece como um acto terrorista, no entanto poético, um acto de fazer e não de desfazer, um acto de prática que é, sem suma, a prática da festa. Transformar a existência numa zona autónoma temporária será um projecto demasiado ambicioso para qualquer um, mas talvez não seja tão impossível quão impossível parece ser existir sem as nossas zonas autónomas temporárias. Que o temporário possa passar a permanente é apenas o que torna o jogo apetecível, pelo que talvez não seja má ideia começarmos por boicotar as figuras sociais que nos delimitam as zonas autónomas temporárias. Cada qual que escolha as suas. A pouco e pouco, tenho tentado escolher as minhas.
Hakim Bey, pseudónimo de Peter Lamborn Wilson (n. 1945), é uma figura curiosa. Buscando na Internet sobre o seu nome, ficamos a saber que é escritor, ensaísta e poeta, intitula-se “anarquista ontológico”, escreveu sobre sociedades secretas, Fourier e Nietzsche, viveu na Índia, Paquistão, Afeganistão e Irão, tem procurado conciliar a doutrina sufista com o anarquismo, o que, já de si, parece projecto tão ambicioso quão aliciante. O resultado desse esforço é o “anarquismo ontológico”, apresentado pela frenesi, parcial mas certeiramente, numa breve colectânea de textos, editada em 2000, reunidos com o título Zona Autónoma Temporária - pequena amostra do pensamento deste autor, cuja complexidade pode ser facilmente constatável, a título de exemplo, neste sítio. Se quisermos ser precisos, teremos de remeter as propostas de Hakim Bey para uma já muito longa tradição do pensamento dito marginal. No entanto, a pergunta impõe-se: que pensamento é esse que possa ser classificado de marginal? Classificá-lo é, em parte, retirá-lo da margem e recentrá-lo, ainda que isso não signifique institucionalizá-lo. Classificar é integrar qualquer coisa num paradigma, mesmo quando essa qualquer coisa se distinga das demais por ser uma força de resistência ao paradigma. Evitemos então as classificações. Quando falamos em “tradição de pensamento marginal” pretendemos referir-nos às propostas filosóficas que se situam na ténue linha da ruptura. É por essa razão que, a título de exemplo, um autor como Nietzsche será sempre um autor marginal, pois todo o seu pensamento situa-se, na forma e no conteúdo, nessa linha de ruptura que pode ser, ao mesmo tempo, uma linha de fusão de perspectivas, à partida, antagónicas. Curioso notar que, tal como sucede no filósofo alemão, também os textos deste pequeno volume resistem a rotulagens de género. Na verdade, eles são poéticos e filosóficos; não propõem um programa sistematizado, mas avançam com propostas num registo que eu diria de orientação no interior do caos; são textos breves que manifestam sem se tornarem manifestos, que instruem sem pretenderem ser iniciáticos. Muito resumidamente, o que o anarquismo ontológico de Hakim Bey "advoga" é o imediatismo numa época onde «toda a experiência é mediada». Contra a mediação da experiência, contra a sobriedade, o imediatismo surge enquanto acto e jogo, sem qualquer propósito de «programa estético», sem intenções comerciais, ao jeito de uma festa onde os participantes, pela prática, libertam-se de «toda a mediação e alienação» típicas das sociedades modernas. Em última instância, diria que este imediatismo consiste numa tentativa de transformar a vida numa espécie de performance movida pelo amour fou. Este amour fou surge, então, como pré-condição da liberdade, pois «floresce com os dispositivos anti-entropia». A mais lógica manifestação deste imediatismo é aquilo a que Hakim Bey chama da terrorismo poético: «O Terrorismo Poético é um acto no Teatro da Crueldade que não tem palco, nem filas de cadeiras, nem ingressos, nem paredes. Para que funcione, o Terrorismo Poético tem de ser categoricamente divorciado de todas as estruturas convencionais para o consumo de arte (galerias, publicações, media). Até mesmo as tácticas situacionistas do teatro de rua serão hoje demasiado conhecidas e previsíveis.» A ideia é, pois, a da imprevisibilidade, do choque, da provocação da mudança. As zonas autónomas temporárias serão, deste modo, as zonas onde a liberdade acontece de uma forma imediata, as zonas onde o amour fou acontece como um acto terrorista, no entanto poético, um acto de fazer e não de desfazer, um acto de prática que é, sem suma, a prática da festa. Transformar a existência numa zona autónoma temporária será um projecto demasiado ambicioso para qualquer um, mas talvez não seja tão impossível quão impossível parece ser existir sem as nossas zonas autónomas temporárias. Que o temporário possa passar a permanente é apenas o que torna o jogo apetecível, pelo que talvez não seja má ideia começarmos por boicotar as figuras sociais que nos delimitam as zonas autónomas temporárias. Cada qual que escolha as suas. A pouco e pouco, tenho tentado escolher as minhas.

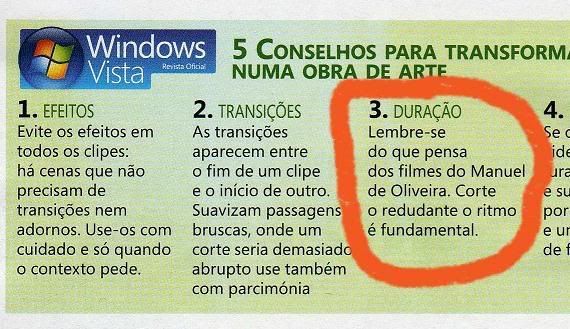
Para quem veja mal, o que está escrito é: «Lembre-se do que pensa dos filmes do Manuel de Oliveira. Corte o redundante o ritmo é fundamental.» (sic)

 A ideia dos weblogs ficarem sujeitos à regulação de uma autoridade que não seja a própria consciência de quem os produz repugna-me. Nestas como noutras matérias, aprecio a simplificação. Um weblog é um diário, com a particularidade de ser on-line, ou seja, aberto a quem o pretenda visitar. Só a quem não gosta de pensar pode incomodar quem pensa alto. Bem sei que nos tempos que correm pensar entrou em desuso, o que torna afrontoso pensar alto. Mas bolas, regular um diário é algo que não passa pela cabeça nem de Deus nosso (vosso?) Senhor, que nos dotou de livre arbítrio para não ter o trabalho de decidir por nós o que apenas a nós cabe decidir. Não nos basta já sermos censurados na carteira todos os dias, ainda querem agora censurar-nos na boca e no pensamento? E quem regulará tanta incontinência reguladora?
A ideia dos weblogs ficarem sujeitos à regulação de uma autoridade que não seja a própria consciência de quem os produz repugna-me. Nestas como noutras matérias, aprecio a simplificação. Um weblog é um diário, com a particularidade de ser on-line, ou seja, aberto a quem o pretenda visitar. Só a quem não gosta de pensar pode incomodar quem pensa alto. Bem sei que nos tempos que correm pensar entrou em desuso, o que torna afrontoso pensar alto. Mas bolas, regular um diário é algo que não passa pela cabeça nem de Deus nosso (vosso?) Senhor, que nos dotou de livre arbítrio para não ter o trabalho de decidir por nós o que apenas a nós cabe decidir. Não nos basta já sermos censurados na carteira todos os dias, ainda querem agora censurar-nos na boca e no pensamento? E quem regulará tanta incontinência reguladora?
 William Edward Bloomfield Starkweather
William Edward Bloomfield Starkweather


MJLF, Alqueva, 2003
Mergulho em melancolia sempre que atravesso o Tejo e passo para o espaço onde o céu não tem tamanho nem fim. A planície alentejana aparentemente bela é amarga; vive de variações lumínicas, constantes contrastes que me atravessam os ossos. O céu na planície é magnífico, luminoso e dissonante; ora se mostra claro no azul infinito, ora as nuvens se espalham sobre ele, irregularmente, com lentidão nos passos, como se anunciassem uma catástrofe, caminhando e esperando pacientemente até se fundirem num cinzento de chumbo.
Maria João

 Novas oportunidades.
Novas oportunidades.
Tradução de Manuel de Seabra.
Gael Turnbull nasceu a 7 de Abril de 1928 em Edimburgo, tendo vivido posteriormente no norte de Inglaterra, Canadá e EUA. Formou-se em medicina pela Universidade da Pensilvânia. A sua poesia era publicada inicialmente sob a forma de panfletos, os quais terão surgido no início da década de 1950. Em 1957 fundou a Migrant Press, dando à estampa várias antologias de poetas modernos. Faleceu no dia 2 de Julho de 2004. Dois anos depois a sua poesia foi reunida em There Are Words.