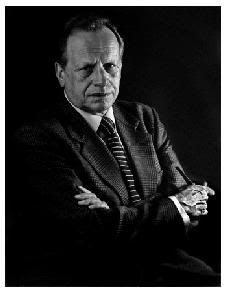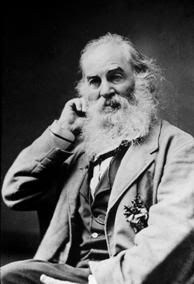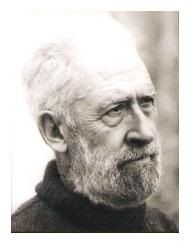VERSOS À GRÉCIA
E ao pé da nossa Pátria, a Humanidade o que é?!
Só em face da morte é que existe a igualdade;
Mesmo entre irmãos, na vida, há distâncias até.
Espírito que o mundo em teu abraço agarras,
São debaixo do céu os homens tão dif’rentes!
Pra defender os mais, sentimo-nos com garras,
Mas, pra nos defender, temos até os dentes.
Os gritos dos clarins da velha Grécia em p’rigo,
O grande coração desse povo aviltado
Se em todos encontrou um coração amigo,
Fez do homem mais fraco um heróico soldado.
A nossa linda terra é Deus que no-la guarda!
Mas para libertar, convosco, o vosso solo,
Só não há-de saber pegar numa espingarda
Quem não souber pegar numa criança ao colo.
Há mil bocas de fogo em cada peito: é abri-lo!
Nas bocas dos canhões há corações a arder!
Fala-se em pátria? Basta! É o seu torrão aquilo
Que eles defendem? Basta! Eles hão-de vencer.
Lutar-se braço a braço e fibra contra fibra,
É o que a nossa razão e consciência ensina;
Não gosto do punhal, mas quando quem o vibra
É fraco e aviltado, é uma arma divina!
Porque sou, como vós, dum país ameaçado,
Eu compreendo, agora, o vosso ódio bem;
Amanhã entrarão no meu país amado
E tentarão matar os meus irmãos também.
Que importa? Ao expirar coberto de mil f’ridas,
Eu direi para mim, mais viva a fé que tinha,
Que todas as nações poderão ser vencidas,
Há uma só que nunca o pode ser: é a minha!
Pois pensai vós também que, seja como for,
Não há nada e ninguém que aniquilar-vos possa,
E a bandeira que ergueis, de que nem sei a cor,
Há-de tomar no ar as lindas cor’s da nossa.
Sofrereis? Certamente! E que importa sofrer?
Só a dor purifica e torna a vida bela!
Quem me dera uma hora igual, p’ra combater!
A minha Pátria assim, para morrer por ela!
Fausto Guedes Teixeira nasceu em Lamego em 1871. Estudou Direito em Coimbra, onde conviveu com muitos outros espíritos que também se notabilizaram na poesia e a quem os dotes de Fausto Guedes, já então revelados, provocaram duradoira admiração, como a que lhe votou sempre Augusto Gil. Passou ao Brasil, onde esteve algum tempo, e, de regresso à pátria, fixou residência na sua cidade natal. Poeta idealista, quer ao tomar como tema o amor quer ao erguer os seus cânticos em prol das nações oprimidas ou em louvor das circunstâncias políticas que lhe pareciam dignas de homenagem e às quais sinceramente tributou o seu entusiasmo. Apesar da tão elogiada harmonia das suas composições, nota-se-lhe certo desleixo e abuso de liberdades poéticas, sem que do conjunto da obra se possa todavia inferir outra opinião que não seja de merecido aplauso. Entre a sua obra contam-se livros como Náufragos (1892), Carta a um Poeta (1899) e Sonetos de Amor (1922). Postumamente, foi publicada uma edição definitiva das obras completas com o título de O Meu Livro e dividida em dois tomos (1941). Morreu em 1940. (in Líricas Portuguesas, segunda série)